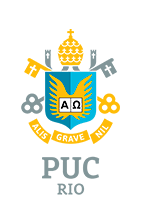Texto publicado pelo sr. Thomaz Albornoz Neves em seu blog e gentilmente cedido para publicação no site do Núcleo de Memória da PUC-Rio.
O primeiro verso do Éluard que eu leio é uma descoberta. Sou um peculiar leitor de poesia. Só me interesso por alguns poemas de contados poetas. E mesmo o poema escolhido rara vez permanece inteiro na minha mente, apagado pelo clarão daquele verso único que me captura. Tendo experimentado a força dessa experiência lendo, estou determinado a repetí-la também escrevendo. Vivo atrás da centelha, do estranhamento repentino. Não nutro interesse algum pelos poetas. Ler o que se escreve sobre eles e sobre as suas obras é, para mim, cometer uma espécie de sacrilégio. Para quê dissecar a estrutura de um poema, contextualiza-lo na vida do seu autor e na galeria da língua, imbutir-lhe um ismo, se o que importa já está ali, nele mesmo? A “Literatura”, ou seja, a soma das minhas leituras essenciais, resiste a ser um todo definido e definitivo. Pensar num contexto poético nacional, restringir o poema à sua lingua me parece o mesmo que reduzir o homem à sua nacionalidade. Se termino por aprender um idioma não o faço através de um curso sistemático (a gramática me tortura), mas através da poesia e com um dicionário. Dito em outras palavras, se aprendo outra língua é para ler poemas. Os traduzo para tomar posse. É um processo de descobertas. Muitas vezes, no primeiro entendimento, nebuloso por ser estrangeiro, a impressão é de ter-me aproximado tanto da origem do verso na mente do autor, quanto daquele estado não verbal onde as palavras se formam. Aprender um idioma através da poesia me remete ao nascimento das palavras.
Curiosamente, os primeiros versos de Paul Éluard que eu leio num dos stands do Papaléguas estão citados em um ensaio e não há na tradução portuguesa do livro dos dois catedráticos franceses sobre o Surrealismo o poema na sua íntegra. Eu manuseio os ensaios nas livrarias pela riqueza das citações. O subsolo da PUC, embaixo dos pilotis da Faculdade de Direito, onde o Papaléguas vende seus livros e revistas é escuro e acolhedor. O lugar perfeito para a solidão que eu sinto: saudosa de inverno, albina no trópico. À direita de quem desce as escadas para o refeitório comunitário há um balcão de bar e bancos dispostos como os de trem contra a parede sem janelas. As estantes verticais giratórias ficam entre as mesas cobertas pelos livros à venda ao lado do balcão. Aquele buraco é o meu lugar de leitura. Esvazia durante cada período de aula e quando lota de repente a interrupção é bem-vinda porque traz os amigos e as amigas de passagem até o começo da aula seguinte. Eu evito a envidraçada e asséptica Biblioteca do terceiro andar. Lá, as pessoas dão a impressão de serem leitores por profissão, circulam com pressa e tratam os livros como utensílios para chegar ao fim do semestre. Aqui, na penumbra, matamos o tempo. Um tempo denso de ar viciado que demora mais, como o da praia. Ao contrário da Biblioteca, os livros do Papaléguas são objetos valiosos que ele cede com generosidade para quem o freqüenta. A consequência do seu despreendimento é o cuidado pelos livros, sempre repostos à sua posição de venda nas estantes ou nas mesas. O lugar rescende a vinho barato, a cerveja derramada e, senão a maconha, a maconheiros vindos do pebolim na Vila dos Diretórios. O verso de Éluard, uma estrofe na verdade, faz com que eu compre o livro sobre Surrealismo e suba imediatamente ao terceiro andar pelo poema original nas suas Obras Completas. Retiro da biblioteca o volume da Pléiade, em papel bíblia, sem folheá-lo sequer e tento voltar ao meu canto no fundo do bar, mas o bar está lotado. Saio da universidade para a luz da tarde, sentindo na minha bolsa de pano o peso dos dois livros não lidos imantado por esse tipo de expectativa que se tem quando esperamos uma revelação. Mas, para a minha surpresa, a estrofe em francês não chega aos pés da tradução da Sra. Eugénia Maria Madeira Aguiar e Silva. Nem versão alguma que eu viesse a pôr os olhos nas semanas seguintes jamais chegou, fosse do Zé Paulo, do Octávio Paz (que se permite a heresia de abolir justo os dois versos que me impressionaram da sua tradução ao espanhol), do Quasímodo ou do Beckett. Diz a estrofe final do poema sem título que faz parte da coletânea Facile, de 1935:
Femme tu mets au monde un corps toujours pareil
Le tien
Tu es la ressemblance
e traduz a portuguesa:
Mulher tu dás à luz um corpo sempre semelhante
O teu
Tu és a semelhança
Éluard (e a tradutora com o seu "dar à luz" a despertar tanta ternura pela Língua Portuguesa) cria uma imagem de mulher que se renova nela mesma diante do leitor. E o que mais ocorre quando olhamos fascinados para a mesma pessoa, senão a impressão de estarmos a olhar novamente pela primeira vez? Foi ler a um só tempo o movimento e o seu princípo que me corta a respiração. Eu venho de descrições estáticas, venho de:
Puedo escribir los versos más tristes esta noche
Eu venho de isto como aquilo:
Cultivar o deserto como um pomar às avessas
ou
y sus muslos me escapaban como peces sorprendidos*
Aquela alquimia verbal, a palavra criando algo que até então não existe, mas que é real, agindo sobre o presente imediato do leitor em vez de remetê-lo ao tempo em que foi escrita, é nova para mim. E por não ser retórico, esse poema se ajusta ao meu errático ritmo de leitura: salteado, caçador de flashes. Eu me sinto confirmado. Alguém já escreveu como eu, sem saber, pretendia. A evidente questão que se coloca ainda não chega a angustiar-me. Como fazer diferente?
*Neruda, Cabral e Lorca, respectivamente.
Texto publicado originalmente em 27/07/2011 no blog albornozneves.blogspot.com (albornozneves.blogspot.com/2011/07/eluard-no-papaleguas-gavea-1982.html)